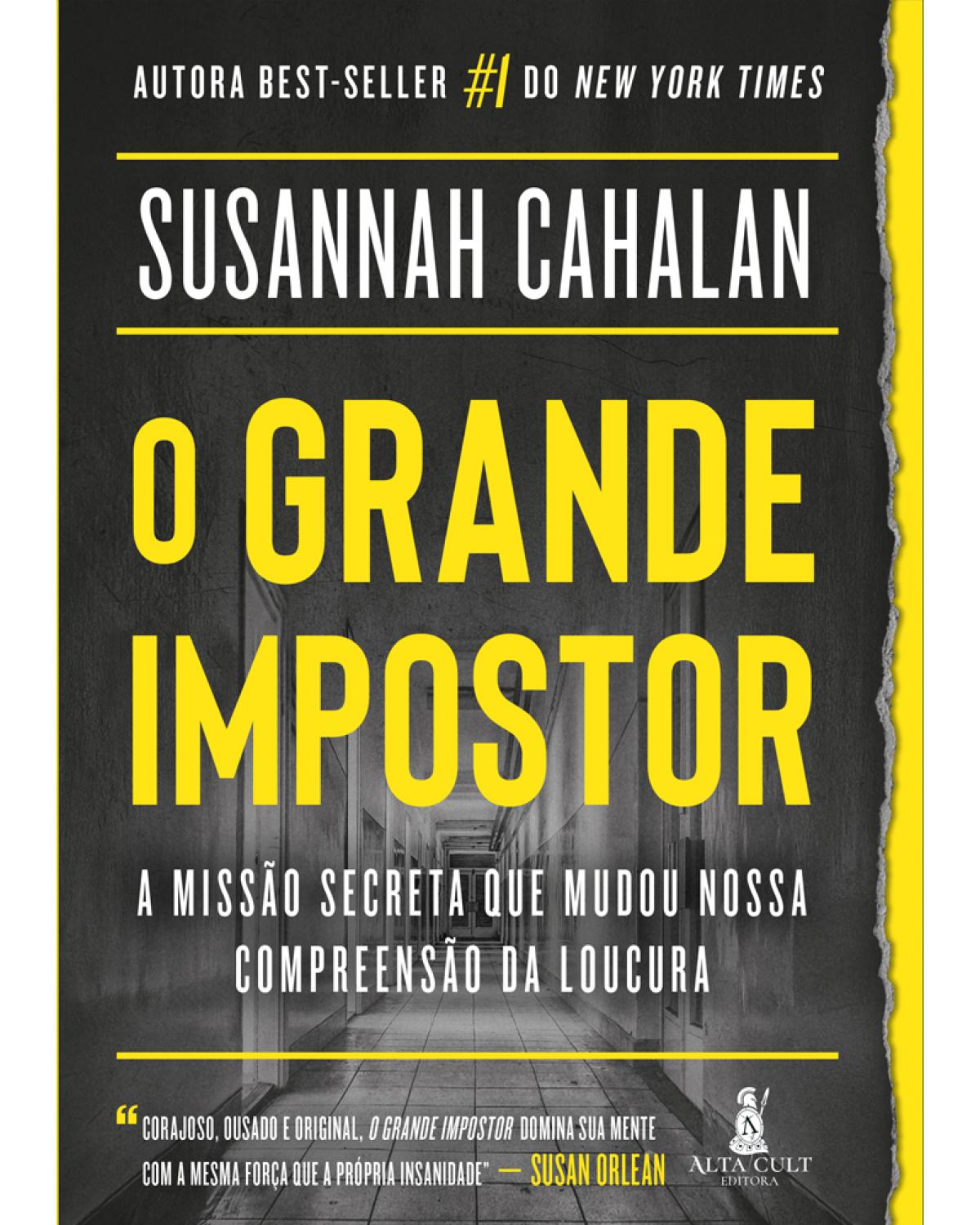Edição: 1ª Edição
Autor: Susannah Cahalan
Acabamento: Brochura
ISBN: 9788550815923
Data de Publicação: 02/10/2021
Formato: 23 x 16 x 2 cm
Páginas: 400
Peso: 0.4kg
Sinopse
A história a seguir é verdadeira. E ao mesmo tempo não é. Esta é a primeira internação do paciente nº 5213.1. O nome dele é David Lurie, um redator publicitário de 39 anos, casado, com dois filhos e que ouve vozes. O psiquiatra abre a entrevista de admissão com algumas perguntas de orientação: Qual é o seu nome? Onde você está? Que dia é hoje? Quem é o presidente?
Ele responde a todas as quatro perguntas corretamente: David Lurie, Hospital Estadual de Haverford, 6 de fevereiro de 1969, Richard Nixon.
Então, o psiquiatra pergunta sobre as vozes. O paciente conta que elas lhe dizem: “Está vazio. Nada dentro. É oco. Faz um barulho oco.”
“Você reconhece as vozes?”, pergunta o psiquiatra.
“Não.”
“São vozes masculinas ou femininas?”
“São sempre homens.”
“E você as ouve agora?”
“Não.”
“Você acha que elas são reais?”
“Não, tenho certeza que não. Mas não consigo fazê-las parar.”
A discussão segue para a vida além das vozes. O médico e o paciente falam sobre os sentimentos latentes de paranoia, insatisfação, de sentir-se de alguma forma inferior a seus colegas. Discutem sua infância como filho de um casal de judeus ortodoxos devotos e seu relacionamento com a mãe, que antes era intenso e depois esfriou ao longo do tempo; falam sobre os problemas conjugais e sua luta para abrandar a raiva que às vezes é dirigida a seus filhos. A entrevista continua dessa maneira por trinta minutos, momento em que o psiquiatra reuniu quase duas páginas de anotações. O psiquiatra o interna com o diagnóstico de esquizofrenia, tipo esquizoafetivo. Mas há um problema. David Lurie não ouve vozes. Ele não é um redator publicitário, e seu sobrenome não é Lurie. Na verdade, David Lurie
não existe.
O nome da mulher não importa. Apenas imagine alguém que você conhece e ama. Ela tem 20 e poucos anos quando seu mundo começa a desmoronar. Não consegue se concentrar no trabalho, para de dormir, fica inquieta na multidão e depois se isola em seu apartamento, onde vê e ouve coisas que não existem — vozes sem corpo que a deixam paranoica, assustada e irritada. Ela anda de um lado para o outro pelo apartamento até sentir que vai explodir. Então, sai de casa e vaga pelas ruas movimentadas da cidade, tentando evitar os olhares fulminantes dos transeuntes. A preocupação de sua família aumenta. Eles a acolhem, mas ela foge deles, convencida de que fazem parte de uma conspiração elaborada para destruí-la. Eles a levam para um hospital, onde se desconecta cada vez mais da realidade. Lá ela é contida e sedada pela equipe exausta. Começa a ter “ataques” — seus braços se agitam e seu corpo treme, deixando os médicos perplexos, sem respostas. Eles aumentam as doses de medicamentos antipsicóticos. Exames e mais exames não revelam nada. Ela está cada vez mais psicótica e violenta. Os dias se transformam em semanas. Então ela murcha como um balão furado, subitamente desanimada. Perde a capacidade de ler, escrever e, por fim, para de falar, passando horas olhando fixamente para a tela da televisão. Às vezes, fica agitada e suas pernas sacolejam em estranhos espasmos. O hospital decide que não consegue mais lidar com ela, anotando em seus registros médicos: transferir para psiquiatria.
O médico escreve em seu prontuário. Diagnóstico: esquizofrenia. A mulher, ao contrário de David Lurie, existe. Eu a vi nos olhos de um menino de 8 anos, de uma mulher de 86 anos e de uma adolescente. Ela também existe dentro de mim, nos cantos mais escuros da minha psique, como uma imagem espelhada do que poderia facilmente ter acontecido comigo aos 24 anos de idade, se eu não tivesse sido poupada da transferência final para a ala psiquiátrica, graças ao talento e a um palpite de sorte de um médico atencioso e criativo que identificou um sintoma físico — inflamação no cérebro — e me salvou do erro no diagnóstico. Se não fosse por essa reviravolta, eu provavelmente estaria perdida dentro do nosso deteriorado sistema de saúde mental ou, pior ainda, seria sua vítima fatal — tudo por causa de uma doença autoimune tratável disfarçada de esquizofrenia.
O imaginário “David Lurie”, eu viria a saber, era o “pseudopaciente” original, o primeiro de oito homens e mulheres sãos e saudáveis que, há quase cinquenta anos, se internaram voluntariamente em instituições psiquiátricas para testar em primeira mão se médicos e funcionários seriam capazes de distinguir sanidade de insanidade. Eles faziam parte de um estudo científico famoso e revolucionário que, em 1973, abalaria o campo da psiquiatria e mudaria fundamentalmente o debate nacional sobre saúde mental. Esse estudo, publicado com o título “On Being Sane in Insane Places” [Sobre Ser São em Ambientes Insanos, em tradução livre], reformulou drasticamente a psiquiatria e, ao fazê-lo, provocou um debate não apenas sobre o tratamento adequado dos doentes mentais, mas também sobre como definimos e empregamos o estigmatizado termo doença mental. Por razões, e maneiras, muito diferentes, “David Lurie” e eu desempenhamos papéis paralelos. Fomos embaixadores entre o mundo dos sãos e o mundo dos doentes mentais, uma ponte para ajudar os outros a entender a divisão: o que era real e o que não era.
Ou era o que eu pensava.
Nas palavras do historiador médico Edward Shorter, “A história da psiquiatra é um campo minado”. Leitor: cuidado com os estilhaços.